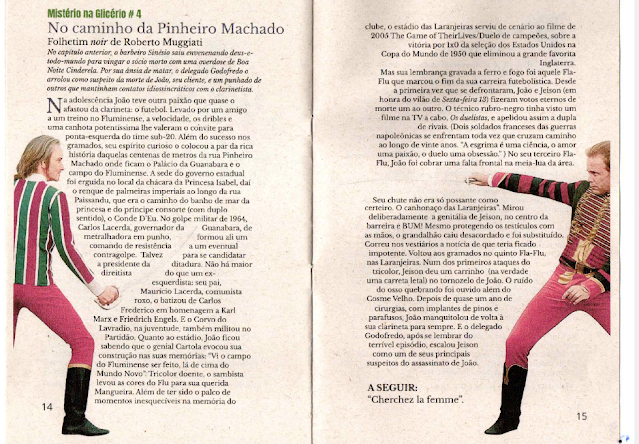|
| Em 2008, anos depois da falência da Bloch, Cony, flagrado pelo celular de Jussara Razzé, olha do lado de fora a muralha do império da Manchete, onde foi "amigo do Rei". Cony soit qui mal y pense... |
(*) Texto especial para a revista Contigo, publicado na seção Gente & Histórias em 2013
Aos 85 anos, completados em 14 de março, Carlos Heitor Cony — depois de uma “parada técnica” — continua escrevendo sem parar, como sempre fez. Jornalista, cronista, escritor, pintor bissexto, pianista idem e “imortal” (embora prefira chamar-se “terminal”), Cony voltou a falar de tudo e de todos. Não passa um dia sem que o leitor, ouvinte ou telespectador tope com uma opinião sua na mídia. Com 40 livros publicados, contador de histórias compulsivo, o próprio Cony é a melhor matéria da sua memória. Com uma vantagem sobre os competidores: das mil e uma coisas que conta, garante: “É tudo verdade!”
• O Cony salvou a minha vida. Ou, pelo menos, minha carreira. Em 1970, incorri na ira do Adolpho Bloch porque deixei passar um texto do Magalhães Jr que dava JK como nascido em 1900. O ex-presidente — amigo do peito do dono da Manchete — se dizia nascido em 1902.

Roberto Muggiati com uma camiseta especial para celebrar mais
de 50 anos de amizade com Carlos Heitor Cony.
O encontro para marcar a data não chegou a acontecer.
Volto a ficar cara a cara com Carlos Heitor quarenta anos depois que nos conhecemos. Apesar de insistir nos últimos vinte anos em se dizer “terminal”, continua com a saúde firme. Só foi levemente prejudicado recentemente por um desgaste na cabeça do fêmur. Implantaram-lhe um pino de titânio e hoje nos aeroportos e em outros locais com detetores de metais o Cony é uma festa, BIP! BIP! BIP! sem parar. Aliás, a palavra “aeroporto” lembra a Cony outra deficiência sua, que moldou muitos aspectos de sua vida:
— Não sei se você reparou, eu falo areoporto, nunca consegui pronunciar corretamente a palavra. Esta e outras.
Como o monarca de O discurso do rei, procurou até um terapeuta, o fonoaudiólogo Pedro Bloch, primo do Adolpho. Cony explica:
— Fui mudo até os cinco anos, Não dizia nada. Também, não tinha nada para dizer. Era uma criança que vivia debaixo da mesa, vendo o mundo como o Tom e o Jerry, vendo os personagens humanos de desenhos animados só da cintura para baixo. Não tinha vontade nem necessidade de falar.
Dois dias depois, vou com Cony ao chá das quintas-feiras na Academia Brasileira de Letras. (ele é “imortal” desde 2000.) Falante e cordial, oferece um belo contraste ao menino calado foi outrora.
Nos primeiros tempos de escola, com seu mutismo e as palavras tartamudeadas, Cony sofreu a perseguição dos colegas, aquilo que hoje se cataloga como “bullying”. E aí estaria a explicação para outro comportamento seu. Todo jornalista que se preza odeia o patrão. Cony foi quase sempre “o amigo do Rei”. Particularmente com Paulo Bittencourt no Correio da Manhã e com Adolpho Bloch na Manchete. Ele me diz que sua intimidade com o poder foi uma compensação pelos traumas e perseguições dos tempos escolares.
Mas Cony precisaria buscar compensações bem maiores pelo fato de não ser o verdadeiro Carlos Heitor Cony. Trata-se de uma fantasia que ele alimenta há muitos anos, mas que, desta vez, me garante, é um fato incontestável. Aos dois meses de idade, aconchegado no berço na casa de Lins de Vasconcelos — bairro carioca onde nasceu — ele vive a sua experiência transcendental: é levado por uma cigana. Sua mãe saiu de casa e deixou a irmã para cuidar do bebê. Duas ciganas batem à porta, querem ler a sorte da tia solteira de Cony, ela se recusa, quando pedem um copo de água a tia não recusa. As ciganas entram na casa, uma distrai a tia, a outra faz a troca dos bebês. Quando a mãe volta e vai ver o bebê, grita espantada: ‘Mas esse não é o meu filho!’ O pai é chamado às pressas, o desespero é geral, mas não há nada a fazer. Sequer foi registrado boletim de ocorrência. Muito sério, ele me garante que “é tudo verdade.” Não é difícil perceber traços de cigano no rosto de Cony, descendente de franceses de origem marroquina.
Outra decepção traumatiza o menino aos doze anos. Seminarista no convento de São José, no Rio Comprido, é um dos doze meninos escolhidos para a cerimônia de lava-pés na Semana Santa. Seu pai é redator do Jornal do Brasil e manda o fotógrafo do jornal, Ibrahim Sued, fotografar a cerimônia. A foto do pé de Cony beijado pelo cardeal sai na primeira página do Jornal do Brasil, mas com a legenda totalmente equivocada, chamando-o de “um pequeno órfão do Asilo de São José.”
Todo santo sofre seu martírio. Ainda nos tempos de batina, passando por um botequim a caminho da igreja num domingo de manhã, Cony topa com um bando de boêmios que prolongavam ruidosamente a noite em Vila Isabel “De repente, um cara sem queixo, tuberculoso notório, larga o violão, pega uma chapinha de cerveja e joga na minha direção. A chapinha raspa com força pela minha orelha, passo a mão e sinto o sangue escorrendo. Corri até a sacristia. Ao chegar, sem fôlego, exibi aquele sangue ao vigário. Era o testemunho da minha fé. O vigário confirma: eu era um mártir.” O nome do agressor: Noel Rosa.
O caso do lava-pés provou a Cony que o jornalismo é uma mentira. Mas isso não o impede de ingressar nas ditas lides, aos 19 anos, depois de largar a batina. Ciente de que é muito tênue a fronteira entre fato e ficção, ele parte para o jornalismo. Sem grandes ilusões. Na adolescência, apaixonara-se pelos romances de Eça, Machado, Flaubert e Zola. Publica em 1958 o primeiro romance, o único escrito a mão, O ventre.
— Por que resolveu escrever romances, Cony?
— Por nada. Excesso de imaginação e falta do que fazer.
A partir daí escreve outros romances, batucados nas teclas de uma Remington portátil. Em 1975 dá uma parada e fica vinte anos sem publicar qualquer livro. Em 1995, volta triunfalmente com Quase memória, o primeiro romance escrito ao computador e dedicado à cachorra “Mila, a mais que amada.” Enquanto Cony digitava suas lembranças, Mila morria a seus pés.
Também não lhe faltaram romances na vida real, muitos deles transformados em casamentos. Filhos (porque qui-los?): Regina Celi e Verônica do primeiro casamento; André, de um relacionamento alternativo no início dos anos 70. Em meados dessa mesma década, Cony aquietou-se no departamento conjugal: casou-se com Beatriz, até hoje sua mulher eleita e companheira de todas as horas.
Insisto em cobrar dele um romance longamente anunciado, mas que não escreveu até hoje: Messa pro Papa Marcello. Arredio, Cony diz que não tem mais energia para escrever romances. Vai continuar publicando outros livros, mas não romances. Por falar em Papa, pergunto a Cony se já alimentou a ambição de reinar no Vaticano.
— Quando era seminarista, sim. Eu era do ramo, por que não almejar o topo? Mas, quando viajei no avião do Papa, em sua primeira visita ao Brasil, vi que não gostaria daquilo. Você deve ter reparado no meu sorriso sarcástico, na foto em que estou conversando com João Paulo II...
A certa altura, cansado da literatura, Cony resolveu pintar. Pinceladas abstratas de acrílico sobre papel. O único óleo sobre tela é um pequeno auto-retrato que mostra Cony como Raskolnikov — o estudante de Crime e castigo que mata duas velhinhas a machadadas.
— Por que Raskolnikov?
— Nunca cometi um grande crime, apenas pequenos delitos sem importância. Aspirava a um grande crime como o de Raskolnikov para poder expiar todas as angústias que sempre me perseguiram.
Cony apega-se à vida, sem motivo justo. E não tem ilusões em relação ao mundo. Sintetiza esta sua visão no final do romance maldito Pilatos. Um grupo de jovens canta e dança na praia diante do sol carioca que nasce. Um passante comenta com o narrador:
— Estão felizes, hein?
— Estão mal informados — respondi. E afastei-me.
Humanista que se renega, Cony é brilhante no labirinto de suas contradições e, apesar de tudo, insiste em escrever. Como ele mesmo diz: “Um gesto tão infantil como o de escovar os dentes, sentir na boca o gosto da espuma crescendo. Um rito infantil que talvez nunca tenha mudado, é sempre o mesmo.”


























.png)