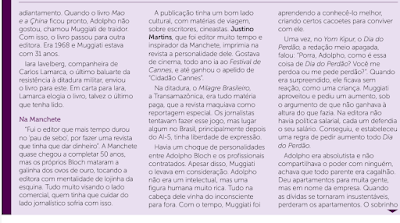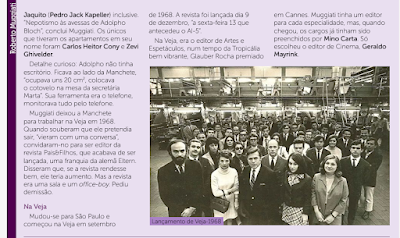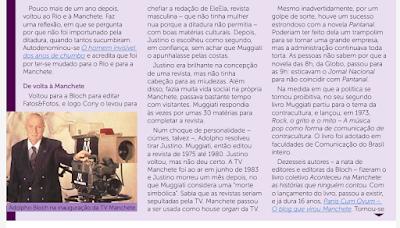|
| David Bowie fotografado pelo seu amigo Jimmy King. Provavelmente a última imagem do "Camaleão", durante o lançamento do seu 28° álbum. (Reprodução do site oficial de DB. |
Por ROBERTO MUGGIATI
David Bowie me fez lembrar duas ocasiões profissionais importantes na
Manchete. Justino Martins tinha voltado a dirigir a revista, depois de mais de cinco anos de desterro – de 1975 a 1980 – quando ocupei o seu cargo. Em 1980, aliás, codirigimos a
Manchete, uma coisa maluca que só podia acontecer mesmo na Bloch. Foi um ano de bonança, graças à visita do Papa João Paulo II: não só esgotamos edições com centenas de milhares de exemplares, como vendemos às pencas uma medalhinha milagrosa supostamente abençoada pelo Sumo, que nem deve ter chegado a saber da tramoia. Frank Sinatra também veio ao Brasil e ajudou a esgotar edições. Em 1981, propus ao Justino que assumisse sozinho a edição – afinal, eu compartilhava a tese dele de que dirigir uma revista é como dirigir um filme: estava criado o “jornalismo de autor”. Continuei na redação como “segundo” do diretor numa boa.
 |
Lairton Cabral, Antonio Rudge, eu, Justino Martins e Wilson Cunha
(ao fundo, Murilinho e uma das suas gravatas):
tempos de champanhe e flütes de cristal na comemoração do
meu aniversário em 1978. Foto: Acervo RM |
Adolpho nunca engoliu o Justino, que chamava de “Índio”, talvez porque fosse o único jornalista da Bloch a encará-lo com altivez. Quando sentiu que eu podia substitui-lo, botou Justino “na geladeira”, Ou melhor, no maior calor, numa redação pequena e entulhada, com o ar condicionado desligado, a de Fatos& Fotos, um andar abaixo da redação de
Manchete, no glorioso oitavo. Adolpho criou um ritual de comemorar nossos aniversários com champanhe: os de Justino, com espumante gaúcho barato e morno; os meus, com Moët Chandon francês, resfriado em baldes de prata e servidos em flûtes de cristal maciço, como podem reparar na foto. Apesar da rivalidade estimulada pelo capo da Bloch para aumentar a produtividade (uma tese discutível), em nossos 18 anos de convivência eu e o Justino sempre nos demos bem.
Naqueles tempos de censura eu, que estreara a carreira paralela de escritor com um incendiário Mao e a China – publicado uma semana antes do AI5 – me dei conta de que, como não se podia mais falar abertamente de política, a nova forma de fazer política era através da cultura; mais precisamente, da chamada contracultura. Passei a escrever então sobre rock. Em 1973, publiquei Rock/O grito e o mito, que fez a cabeça de muito jovem e foi adotado em várias faculdades de comunicação do país. Sugeri, ou foi o próprio Justino quem sugeriu, uma série na Manchete intitulada “Os Jovens Que Balançaram o Coreto”. A série começou com Bob Dylan e incluiu uma dezena de perfis, entre os quais o de David Bowie, com o título “Um extraterreno no planeta pop”. Eram perfis dinâmicos e começavam com o “olho” da abertura em página dupla da
Manchete:
“Rei do glitter – o rock de plumas e paetês que estourou no início dos anos 70 – David Bowie, mais do que um superstar, é um sobrevivente. Ele nasceu no pós-guerra num bairro pobre de Londres, quase ficou cego, quase foi emasculado, quebrou pernas, mãos e dedos, internou o irmão num asilo de loucos, mas partiu para a luta, com voz, corpo e garra, conquistando o poder e a glória e um lugar privilegiado no Olimpo do rock.”
Depois, transformei aqueles perfis num livro, Rock: do Sonho ao Pesadelo, publicado em 1984 pela L&PM. Fiz até a capa, em parceria com minha mulher Lena, fotógrafa de
Manchete. Naquela época sem recursos de computador, foi um trabalho braçal mesmo. Lena fez a foto em cor de uma guitarra e depois a ampliou em papel. Peguei doze retratos de roqueiros em P&B, também em papel, que recortei à mão para dar um efeito rasgado. Espalhei os retratos sobre a foto de fundo da guitarra. Depois cobri tudo por uma placa de vidro e, com um martelo, estilhacei o vidro todo. O Ivan Pinheiro Machado, da L&PM – ele mesmo artista gráfico e capista da maioria dos seus livros – adorou.
Àquela altura, o Justino já tinha partido, em agosto de 1983, consumido por um câncer fulminante em menos de um mês. Foi uma morte simbólica, ocorrida dois meses depois da entrada no ar da Rede Manchete de Televisão. Com a TV, as revistas foram abandonadas e entraram em lenta agonia até a falência de agosto de 2000. (Ironicamente, foi o aval da editora a um empréstimo para a TV que acabou levando à concordata e à falência...)
Mas quero lembrar um estranho momento de rock com o Justino, ainda em 1983. O heavy metal surgira com força total para detonar o rock-de-elevador da New Wave consumido pelos yuppies.
 |
O Kiss na Manchete: uma das últimas edições
paginadas por Justino Martins. |
E uma das bandas mais carismáticas do hard rock veio tocar no Brasil, o Kiss. Fui cobrir o show de sábado à noite no Maracanã com minha mulher, Lena, que fotografaria o evento. O carro da
Manchete nos pegou em Botafogo e foi depois apanhar o Justino e sua filha adolescente (Maria) Valéria na Joatinga. Era a única filha do Justino, que perdera o Carlito num trágico acidente de carro num Carnaval do início dos 1970. Valéria, com seus 17 ou 18 anos, era a razão de todo esse rock na vida do Justino. Quando o pegamos em sua bela casa na Joatinga, projeto de Zanine, ele estava terrivelmente chocado. Um grave acidente ocorrera naquela manhã: dois pintores que iam trabalhar na casa do Justino foram brutalmente atacados pelos cães da casa, uns rotweillers, se não me engano. O estrago foi grande e os homens tiveram de ser hospitalizados. Justino se sentia, de certa forma, culpado pelo episódio. O motorista, para chegar mais rápido ao Maracanã, fez um percurso insólito: pegou o Túnel Santa Teresa-Rio Comprido. (Fui checar agora no Google: é o primeiro túnel viário construído no Rio de Janeiro, e o único da época imperial, 1887. De soslaio, vi que ali por perto existe uma Rua Marcel Proust – vocês sabiam dessa?) A manobra deu certo e chegamos rapidamente ao Maracanã.
Instalados no curral VIP no gramado do então “maior do mundo”, corri à fila do gargarejo para fazer companhia a Lena, que fotografava diante do palco. Gargarejo é pouco. O líder da banda, Gene Simmons (O Demônio), com sua maquiagem grotesca, vomitava golfadas de uma geleca verde sobre a plateia e... sobrou para mim também. Mais um parêntese – desculpem o cacoete – mas é tanta coisa interessante. Esse Demônio do Kiss era apenas a persona cênica de um pacato cidadão. Cito das folhas roqueiras; “Gene Simmons, nome artístico de Chaim Weitz, nascido num kibutz de Israel, naturalizado norte-americano, ex-professor primário, contrariamente a muitas personalidades do rock afirma ‘nunca ter consumido drogas, nunca ter fumado nem nunca ter bebido álcool demais em toda a vida’.” No mundo louco do rock, tudo é possível. . .
 |
| David Bowie, no Metropolitan, em 1997. Foto: Arquivo Pessoal |
A certa altura do show, cansado de toda aquela chuva de gosma verde e do som pauleira, afastei-me do palco e saí à procura do Justino. Fui encontra-lo cochilando de pé, encostado à grade nos fundos do cercado que separava os VIPs da plebe rude. Atribui seu cansaço ao trauma da agressão dos cães, mas depois eu saberia que já era o prenúncio da doença, o câncer minando aquela fabulosa figura humana. Fiquei pensando: o Justino, leitor de André Gide e André Malraux, o Cidadão Cannes – apelido que ganhou por suas visitas anuais ao famoso festival – apreciador da nouvelle vague e do Cinema Novo, logo ele encarando aquele circo de horrores da cultura de massa...
* * * *
Um flash-forward: estamos agora em 1996 e agravou-se aquele eterno conflito em torno da direção da
Manchete e das vendas da revista (Alberto me apelidou de Muggi das Crises). Hélio Carneiro ocupou a direção por seis meses, entre fins de 83 e começo de 84. Voltei à berlinda, ou pau-de-sebo. Adolpho morreu em novembro de 1995. Jaquito me chamava às vezes e dizia: “Muggiati, precisamos fazer alguma coisa, pense no futuro dos nossos filhos...” Osias chegava de sorrelfa e sussurrava: “Muggiati, dá um jeito na coisa, senão um belo dia vem aí um executivo paulista de pastinha na mão e assume o teu lugar...” Mas “a coisa” não era nada fácil. Dirigir Manchete era como dirigir a seleção brasileira. Todo mundo – do contínuo ao patrão – se achava capaz de resolver a parada; o técnico é burro, troca o técnico. Enfim, me trocaram em 1996 e, pela primeira vez em trinta anos de Bloch, me vi literalmente alçado ao nirvana. Explico melhor: o prédio original da
Manchete, no terreno escavado da rocha a dinamite, na Rua do Russell, 804, foi inaugurado no final de 1968. O segundo prédio, maior em extensão, foi construído no terreno contíguo, onde havia o castelo do advogado José Soares Maciel Filho, o redator da carta-testamento de Getúlio Vargas. As instalações principais da editora mudaram-se para o novo endereço, Rua do Russell, 766, a partir de 1980 – inclusive, e principalmente, a redação da
Manchete e o restaurante que, do terceiro andar aberto à beira da piscina, se tornou um espaço mais seletivo, para editores e executivos, no 12º andar, com ar refrigerado. Ao lado, em direção do Hotel Glória, havia ainda uma casa disponível. Um contínuo apelidado Sammy Davis Jr prometeu ao “Seu” Adolpho que convenceria a proprietária, uma idosa que vivia sozinha, a vender o terreno. Dito e feito. Cinco anos depois, os assédios diários do Sammy Davis vingaram e Adolpho comprou a casa. Ali passou a funcionar em 1986 a terceira extensão da fachada de Niemeyer – bem menor que as outras duas, mas um espaço privilegiado de qualquer forma.
 |
Na "Santa Genovena", uma espécie de 'sala do exílio', na Bloch, vivi uma
temporada profícua. Foto: Acervo RM |
Quando um editor importado da Pauliceia – como anunciara o Osias – veio finalmente ocupar o meu lugar, eu ganhei um novo cargo, uma espécie de promoção, como Editor de Projetos Especiais, e fui ocupar a cobertura do terceiro prédio, um salão imenso com piso de tábua corrida, unidade autônoma de ar condicionado, com uma escultura do Krajcberg atrás da minha mesa e uma varanda que dava para o cartão postal do Aterro, da entrada da baía e do Pão de Açúcar. Era um local meio destacado do resto da Bloch, acessado por uma escada em forma de caracol, que a velha guarda de bengalas ou com problemas de menisco não se atrevia a escalar; e muita gente nunca achava tempo para ir até lá, de modo que fui poupado de um batalhão de chatos. . . O Alberto, com sua verve infalível, apelidou o lugar de “Santa Genoveva” (aludindo a uma clínica de repouso carioca em que se descobriram casos de maus tratos aos velhinhos.) Para quem fazia uma Manchete por semana, a temporada na “Santa Genoveva” foi profícua. Reeditei uma série de fascículos lançada em 1972, História do Brasil, atualizando-a até o Governo FHC e o Plano Real. Foram 52 fascículos encartados semanalmente na própria Manchete com a intenção de – como diziam os marqueteiros – “alavancar” as vendas. Editei o número especial de 45 anos da revista
Manchete, um sucesso editorial, de vendas e publicitário, com 350 páginas. Na área pessoal, lancei pela Ediouro A revolução dos Beatles, que tinha a ver com a data-fetiche de 11 de setembro de 1962 – quando os rapazes de Liverpool gravaram seu primeiro disco em Abbey Road (Love me Do/PS I Love You) e eu iniciava minha temporada de três anos em Londres trabalhando na BBC. O livro foi lançado em 1997, comemorando os 35 anos da data, mas, antes disso eu já havia publicado várias matérias na Manchete comemorando aniversários anteriores.
Pena que a doce vida na “Santa Genoveva” não durou muito. Poucos meses depois da minha ascensão, Jaquito já me fazia voltar ao inferno da redação para editar o número de Carnaval da Manchete: “Estes paulistas não entendem nada de Carnaval...” Não era um bom sinal. Em 31 de agosto de 1997, desci de Itaipava para fechar em poucas horas a edição extra de Fatos&Fotos sobre a morte da Princesa Diana.
Duas coisas boas sobre a mudança: a reforma gráfica do designer milanês Carlo Rizzi, primorosa, que deu uma cara nova à
Manchete. E outra, que explica por que qualquer pessoa de fora nunca daria certo na
Manchete: o estilo de gestão de Adolpho Bloch, que fugia à padronização dos “quadros”, um estilo posso chamar até de humanista. Cada funcionário era um indivíduo único, com suas virtudes e seus defeitos, do qual Adolpho tentava extrair o melhor que pudesse oferecer para o trabalho comum.
Em 31 de outubro, Dia das Bruxas, uma sexta-feira, o editor paulista pediu as contas e se mandou. Jaquito me ligou comunicando que eu estava de volta à direção da
Manchete e que o fechamento da revista na segunda-feira seria por minha conta. É aí que entra David Bowie pela segunda vez nessa história. Eu tinha um camarote no Metropolitan para assistir ao seu show da turnê do álbum Earthling no domingo, 2 de novembro, Dia de Finados. Anteriormente, véspera de fechamento para mim era sagrada e a noite de domingo era de abstinência total. Tinha de estar cem por cento em forma para encarar o desafio da segunda-feira, que se estendia às vezes até a noite de terça. Desta vez, no entanto, eu repensei tudo aquilo e, “existencialista, com toda razão” mandei tudo praquele lugar. Fui ao Metropolitan com meu filho, Roberto, e meu sobrinho, Fernandinho. Tomei todas e curti adoidado o rock do Camaleão Bowie, aquele que catorze anos antes, nas páginas da
Manchete, eu batizara de “um extraterreno no planeta pop.”