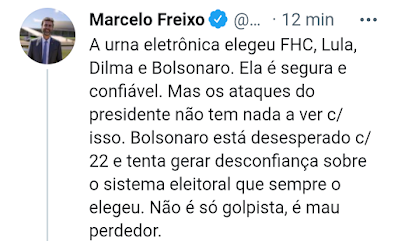|
| Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sergio Dias. Foto de Antonio Trindade/Manchete |
Em março de 1968 troquei o Rio por São Paulo para trabalhar no projeto da revista Veja, que seria lançada em setembro. Editar um newsmagazine nos moldes da americana Time era o sonho dourado de Victor Civita, tão importante que ele aposentou sua galinha dos ovos de ouro – a revista mensal de reportagens Realidade, o maior sucesso da Abril – para concentrar todas suas forças e finanças na semanal de atualidade.
Numa estratégia equivocada, o velho VeeCee, 61 anos, adotou a grade funcional da Time, copiando seu expediente, preenchendo centenas de empregos com os melhores jornalistas do Brasil. O êxodo das redações cariocas para a Pauliceia somava algumas dezenas de editores, redatores e repórteres. Acontece que a Time – iniciada com um punhado de bravos em 1923 – evoluiu palmo a palmo até sua configuração de 1968, ao longo de cinco décadas, num cenário sociocultural específico, atravessando os crazy twenties, o crack da Bolsa, a Depressão, a Segunda Guerra, o boom dos anos 50, a Guerra Fria e os swinging sixties, ou seja, um cenário tipicamente norte-americano.
Ainda: a campanha publicitária dava a impressão de que a Veja seria a Manchete da Abril. Esse erro foi bombasticamente reforçado na véspera do lançamento: transmitido pela TV em cadeia nacional às 20 horas de domingo 8 de setembro (a revista saía às segundas com a data de capa de quarta), um documentário de Jean Manzon mostrava a Veja cobrindo todas as frentes de guerra do mundo, que não eram poucas na época. A Abril se deu conta da imagem truncada ainda na fase dos “números zero” e – pior a emenda que o soneto – acrescentou ao veja do logotipo as palavras e leia. Fez ainda uma maciça distribuição de brindes para meio Brasil: uma lupa num estojo com a logomarca veja e leia.
 |
A "Árvore" no topo da antiga
sede da Abril, na
Marginal Tietê |
Não importa: o investimento foi tão maciço que a Veja, no início, se tornou um farol para a classe cultural brasileira. A tal ponto que seus jornalistas não se davam a pena de ir até os entrevistados, os artistas é que tinham de peregrinar até a Meca da Marginal do Tietê. Foi assim que – como editor de Artes e Espetáculos – recebi Rita Lee, Sérgio e Arnaldo Baptista em fins de 1968 para uma conversa na hora do almoço. Os Mutantes eram um foguete em ascensão nos céus da MPB. Em 1967 brilharam no Festival da
Record acompanhando Gilberto Gil em Domingo no Parque; no ano seguinte fizeram história na final paulista do FIC, cantando sob vaias o polêmico É proibido proibir de Caetano Veloso.
O recente anúncio da doença de Rita Lee me fez voltar àqueles tempos e me sentir, de certa forma, culpado. Não havia nenhum espaço decente na Abril para receber celebridades. Tinham de comer no horroroso galpão de madeira comunal dos jornalistas e demais empregados, que ficava num anexo ao lado do prédio da editora – quando chovia, e amiúde chovia grosso, todo mundo se encharcava. Senti-me vexado ao receber os garotos – Rita e Arnaldo tinham 20 anos, Sérgio 18. Ainda não tinha aflorado ao sangue da ruivinha a rebeldia sulista de seus antepassados que lutaram na Guerra da Secessão – as irmãs, Mary Lee e Virginia Lee também foram nomeadas em homenagem ao general confederado Robert E. Lee – mas cheguei a recear, da parte de uma Rita Lee afrontada, algum protesto, como batucar numa panela, igual à matriarca dos filmes de faroeste, e chamar os caubóis para o rancho: “Come and get it!”
No ano e meio que passei na Veja em São Paulo só uma vez fui convocado por Seu Victor para receber um convidado VIP, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, recém-consagrado “Velho Guerreiro” por Gilberto Gil em Aquele abraço, o hino de despedida do baiano ao partir para o exílio em Londres. Foi um almocinho tacanho naquele pequeno anexo na cobertura do prédio encimado pela árvore da Abril. Um cardápio tão banal que não guardo a menor lembrança do que foi servido. Não podia haver maior disparidade de temperamento entre o Civita e o Chacrinha, o motivo do encontro era um negócio, os dois iam ganhar muito dinheiro à custa do outro. Chacrinha era tão genial que tinha resumido toda a teoria do Marshall McLuhan num bordão: “Quem não se comunica, se trumbica.”
 |
| Glauber Rocha na capa da Veja, 1969 |
Recebi ainda outra celebridade, sem o menor aviso: uma tarde Glauber Rocha adentra meu cubículo de editor, avisado de que a Veja preparava uma grande matéria sobre seu “cordel Western” O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que concorria ao Festival de Cannes de 1969. Além da alma de cineasta, Glauber tinha feeling de marqueteiro e faro de repórter e me encheu de mil detalhes sobre o making of do filme: por exemplo, como uma pesada câmera foi perigosamente içada por meio de cordas a uma escarpada montanha no sertão baiano. Glauber ganhou o prêmio de melhor direção em Cannes, ganhou também a capa de Veja, a única que assinei, enriquecida pelas informações de cocheira do cineasta. Nem um cafezinho morno lhe foi oferecido no prédio da Abril.
 |
| Na Veja, em 1968. Foto Acervo Pessoal |
Guardo da época uma única foto, um melancólico instantâneo, de paletó e gravata, no cubículo que dava para a terra devastada do Tietê. Rita Lee, em troca, era a glória, com seu olhar safado debaixo das franjinhas, rosto sardento, margaridas nos cabelos, bochechas rechonchudas, um fininho entre os dentes.
Pouco depois, eu voltava ao “balneário da república” para dirigir a Fatos&Fotos, na empresa que Adolpho Bloch definia como “um grande restaurante que, por acaso, imprimia revistas”. Em breve, aguardem no Panis Cum Ovum – até o título do nosso blog é uma referência culinária – um suculento relato sobre o Império Gastronômico da Manchete.