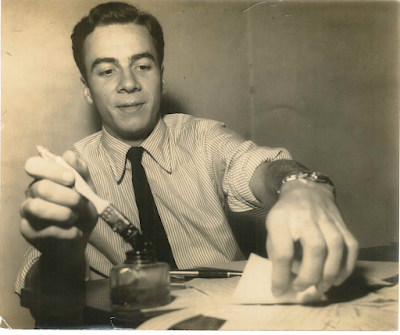|
| Foto Gil Pinheiro |
por José Esmeraldo Gonçalves2 de agosto de 2000. Há 23 anos, em uma quarta-feira como hoje, os funcionários da Bloch Editores foram obrigados a abandonar às pressas a sede da empresa na Glória. Um oficial de justiça concedeu-lhes apenas alguns minutos para que reunissem seus objetos pessoais e, literalmente, fossem para a rua. No caso, a do Russell.
A aglomeração no pequeno largo diante do imponente conjunto de três edifícios assinado por Oscar Niemeyer chamava atenção de quem passava de carro. Formou-se um pequeno engarrafamento, alguns indagavam se havia um incêndio.
Não. Ninguém gritou fogo, mas a notícia da autofalência da Bloch queimava centenas de carreiras e lançava os mais idosos no desemprego. Aos mais jovens restava enfrentar o sempre difícil mercado de trabalho. No caso de jornalistas, fotógrafos, pessoal do administrativo e gráficos surgia um novo obstáculo: a mídia impressa entrava em grave crise que se agravaria ao longo da primeira década do novo milênio. O meio digital não ofereceria um número de vagas que compensasse a perda de cerca de quatro mil postos em todo o mercado de jornais e revistas do Brasil.
A Bloch Editores agonizava desde meados dos anos 1990, abalada pela grave crise financeira e adminstrativa da Rede Manchete. Afinal, depois de várias vendas frustradas e desfeitas por falta de pagamento dos compradores, a TV foi vendida em 1999 ao grupo empresarial que fundou a RedeTV (que, na transação, atendia pelo nome fantasia de TV Ômega).
Um reposicionamento da Revista Manchete nos últimos anos daquela década deu esperança de novo vigor ao braço editorial das revistas impressas da Bloch. Mas era tarde. Imposta pela internet, a acelerada mudança do mercado de revistas já se anuncava em 2000 e em menos de dez anos decretaria o fim de centenas de publicações impressas no Brasil e no mundo.
A Bloch não resistiu e pediu falência.
Carlos Heitor Cony testemunhou a queda do raio que partiu de vez o futuro da empresa. Ele confessou que só sete anos depois conseguiu descrever um pouco do que sentiu ao ser enxotado naquele fatídico agosto. Seu relato foi publicado na Folha de São Paulo em 2007. Segue-se um pequeno trecho do texto do Cony, que faleceu em 2018.
- Penso que remeti as impressões todas para a caverna mais funda da memória, mais cedo ou mais tarde conseguirei articular alguma coisa expressando meu espanto, minha tristeza. A decepção de ver um mundo colorido, alegre e despreocupado, depois de uma ruína gradual e dolorosa que já durava dois anos, fechar-se como um túmulo que sepulta fantasmas, alguns mortos (Adolpho Bloch, Justino Martins, Magalhães Jr e outros ainda vivos, nós todos). Sinto em cima de mim o gosto de terra e o cheiro de flores apodrecendo".
Em 2008, como um dos autores da coletânea "Aconteceu na Manchete - as histórias que ninguém contou" (Desiderata), lançado por um grupo de ex-funcionários da Bloch, Cony voltou ao assunto e, entreo outras revelações destacou;:
- Foi na Manchete que fiz e conservei alguns dos amigos mais queridos. Por ocasião da falência do grupo, eu ocupava o antigo escritório de JK no décimo andar do 804, dava apenas assistência não mais às revistas, mas à diretoria, sofri com Adolpho o trauma das tentativas de venda da TV a outros grupos".
Cony certamente não imaginou que aquele trágico 2 de agosto era apenas o primeiro e sofrido capítulo de um drama que se arrasta até hoje quando a Massa Falida da Bloch Editores completa inacreditáveis 23 anos.
Não há justiça plena enquanto uma instituição que deveria privilegiar os trabalhadores consome partrimônio, tempo e esperanças ao não restituir todos os legítimos direitos às vítimas da implosão de uma corporação. Massas falidas não pode se eternizar enquanto vidas passam.
Registre-se que uma parcela majoritária de credores trabalhistas da Bloch recebeu seus valores chamados principais. A estes - seriam quase três mil ex-funcionários da Bloch Editores e Gráficos Bloch -, a Massa Falida pagou depois três parcelas de juros e correção monetária, mas há quase dez anos interrompeu essa recomposição devida. Por outro lado, ainda há credores trabalhistas habilitados que não receberam seus valores principais.
A Massa Falida da Bloch Editores foi constituída em 2000. Apesar disso, o atual administrador judicial cita uma lei de 2005 segundo a qual valores referentes a juros só poderão ser pagos após a quitação das dívidas da extinta Bloch com todos os seus credores, trabalhalistas, financeiros, comerciais, institucionais etc. Então a lei retroage? Essa é a pergunta que muitos ex-funcionários fazem. Há outras indagações. No ano passado o síndico da Massa Falida da Bloch Editores informou a procuradores do Estado do Rio de Janeiro que "o ativo da massa falida foi praticamente liquidado, encontrando-se o processo falimentar na fase de pagamento de credores para posterior encerramento". Isso indica que o caixa se esvaziará antes do pagamento dos valores históricos e de juros e correção monetária de todos os credores trabalhistas?
Um bem valioso que pertencia ao extinto Grupo Bloch era o grande prédio da sede em São Paulo. Tal patrimônio teria ido a leilão, mas, em primeira chamada,, em outubro do ano passado, não apareceram potenciais compradores. Não tenho informação se foi arrematado posteriormente. No caso, o valor arrecadado seria, segundo dizem credores trabalhistas, dividido entre as massas falidas da Bloch e da TV Manchete. Outro item de valor são as obras de arte restantes do acervo da editora. Aparentemente continuam aguardando uma data para leilão. Enquanto isso, custam à MFBloch o aluguel de salas para guarda, seguro etc.
Trabalhei muito anos com Carlos Heitor Cony na Fatos & Fotos, na Fatos e na Manchete, mas não estive no fatídico dia do despejo do prédio da Rua do Russell, que frequentei por longos 17 anos. Saí antes do desfecho da Bloch, não tive motivos para me habilitar a qualquer indenização. Em 1996, o editor e fotógrafo Sergio Zalis, com que eu havia trabalhado na revista Fatos, me convidou para participar da equipe da Caras, no Rio. Deixei a Manchete e me mudei para a Torre do Rio Sul, onde ficava a redação carioca da então recem-lançada revista sediada em São Paulo. Foi uma ótima expriência que durou oito anos. A Caras era fruto de uma parceria da Editora Perfil, argentina, com a Abril. Em 2004, fui demitido após uma discussão com o diretor-geral da Caras. Para minha supresa, no dia seguinte, por indicação de Patricia Hargreaves e Vanessa Cabral, ambas ex-Caras, Edson Rossi, que ao lado de Claudia Giudice, também ex-Caras, planejava o reposicionamento editorial da Contigo, publicação da Editora Abri, me convidou para integrar a sua equipe. Topei e foram, novamente, bons anos, até 2014, quando meu tempo de trabalho fixo em redações se esgotou em parte pela crise, em parte pela minha idade - era veterano demais para os novos tempos.
Em todos eesses anos distante da Manchete nunca deixei de acompanhar a luta sem fim dos antigos colegas pelos seus direitos. De certa forma, eu estava naquela dramática aglomeração na Rua do Russell. Por fim, lamento que esse post não seja otimista, tanto que vale voltar ao Cony e a uma das frases que ele gostava de repetir.
- Insisto em ser pessimista por antecipação e cálculo. O que me sobra é lucro''.















.webp)






.jpg)