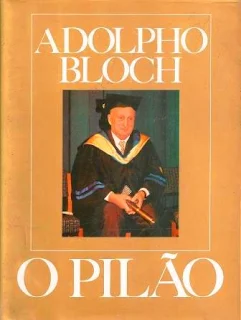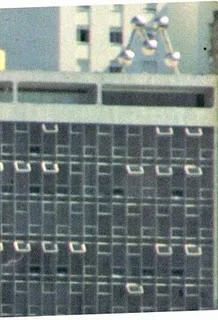Por Roberto Muggiati
No final de 1968, a Bloch tornou-se a primeira grande empresa editorial a ter sua sede na Zona Sul. O Jornal do Brasil se mudara de um prédio da belle époque na Avenida Rio Branco para o mastodonte do começo da Avenida Brasil. O império do Chatô, que tinha como carro-chefe a revista O Cruzeiro, ficava numa péssima vizinhança, na Rua do Livramento, quase na zona do cais do porto. O Globo se escondia na Rua Irineu Marinho, nas proximidades do antigo IML.
 |
Em uma das mesas no hall da Manchete, em noite de gala que Ibrahim Sued apontou como a mais espetacular do ano,
os casais Denner e Maria Stella, Walinho Simonsen e Regina Rosemburgo (de vermelho),
então musa do society carioca. Regina casou-se depois com o empresário Gérard Léclery.
Ela foi uma das vítimas do acidente do Boeing 707 da Varig, nas imediações do
Aeroporto de Paris/Orly, em 1973.
Clique nas imagens para ampliar. Reproduções Revista Manchete |
Em 1965, ao voltar de Londres, comecei a trabalhar como repórter do Globo. Fui cobrir um congresso da Interpol no Hotel Glória, voltei, bati a matéria, deixei na mesa do chefe de reportagem Alves Pinheiro, peguei o paletó e me mandei. Achei o ambiente opressivo. Não posso dizer que a redação da
Manchete em Frei Caneca fosse muito diferente. Para se chegar à redação era preciso caminhar meio quilômetro através de um galpão cheio de máquinas sucateadas e pegar um elevador de carga até o terceiro andar. Quase não havia janelas, o calor sufocava e os ventiladores de poste só ajudavam a circular o bafo quente. As salas da reportagem e da redação eram separadas por tapumes de madeira barata e vidro chapiscado. No entanto, ali fiquei, mesmo porque repórter vivia na rua. E havia uma promessa no ar. Em dezembro de 1965, Adolpho Bloch promoveu o que seria o maior evento do ano, no prédio do Russell parcialmente pronto: um jantar de gala com o anúncio da lista das Dez Mais Elegantes de Ibrahim Sued e o leilão para fins de caridade do modelo número um do carro Willys-Itamaraty.
Lembro que Zevi Ghivelder, chefe de redação da
Manchete, tomou as dores da reportagem, que não foi convidada para a festa. Nem seria o caso, mas o bom Z’vi, para reparar o que considerava uma injustiça, ofereceu um almoço de sábado para os repórteres em seu apartamento na Hilário de Gouveia, em Copacabana. Lembro do jovem Roberto Barreira, recém-chegado de uma temporada na Sucursal de Milão, e já ligado em moda, ousando exibir meias cor de abóbora. Afinal, já eram os tempos das cores cítricas de Carnaby Street.
 |
| Antiga sede da Manchete, Rua do Russell. Foto de Gil Pinheiro |
Em março de 1968, troquei Frei Caneca pela redação da Veja (seria lançada em setembro), na Marginal do Tietê. Em setembro de 1969 voltei para dirigir a
Fatos&Fotos no prédio da Rua do Russell, 804. O terreno foi conquistado após anos de dinamitagem para cavar espaço no imenso rochedo. Com isso, o terreno adquiriu uma profundidade notável: depois do prédio, vinha o platô do terceiro andar, com o restaurante à beira da piscina dando para a fachada monumental do Teatro Adolpho Bloch. Na verdade, o público não entrava por ali: saía, nas noites de gala, pelos fundos do palco, para a piscina e a ceia luxuosa servida no restaurante.
A fachada do Niemeyer era um portento, o prédio todo tinha assoalhos de tábua corrida, banheiros de mármore de Carrara com torneiras de latão reluzente, móveis de jacarandá desenhados por Sérgio Rodrigues, as telas dos melhores pintores brasileiros nas paredes, tapetes persas no hall dos elevadores de cada andar. Um detalhe que me tocou: um dia chega um senhor de aparência simples, calça marrom e camisa branca, para pintar as palavras BLOCH EDITORES nas divisórias de vidro com tinta de ouro. Eu o via dias a fio, apoiando o pincel numa vareta, pintando com a mesma concentração com que Michelangelo pintara a Capela Sistina.
Apesar da beleza externa, o prédio, no seu interior, era todo problemas. Niemeyer era um poeta, um escultor, mas descurava do conforto e dos aspectos funcionais. O excesso de madeira concentrava brutalmente o calor. O sol nascia na entrada da baía de Guanabara apontando seu canhão para a Bloch. As belas janelas de vidro, que compunham a estética da fachada, só abriam poucos centímetros para dentro, impedindo a ventilação. Mesmo no inverno, a temperatura interna era dez graus a mais do que a da rua. Manter o ar ligado o tempo todo implicaria em custos astronômicos. Era nestas horas que surgia a figura heroica de R. Magalhães Jr. Irritado e suarento, o acadêmico tirava a camisa – exibindo seu torso nada apolíneo – colava uma lauda na testa e descia ao primeiro andar, onde Adolpho Bloch começava o dia despachando com o financeiro, descascando pepinos e abacaxis, empinando papagaios e maldizendo os banqueiros. Mas a fúria do Magalhães pegava o Adolpho de surpresa e imediatamente ele ordenava que o ar condicionado fosse ligado... só no andar da
Manchete. Eu costumava comentar que o Oscar Niemeyer, comunista velho de guerra, era coerente: havia aplicado a teoria da luta de classes à sua arquitetura.
Nos almoços naquele platô do terceiro andar rolavam discussões homéricas, mesmo porque Homero Homem era um dos participantes, ele o poeta Ledo Ivo, também repórter especial da
Manchete, e o Magalhães. Uma das controvérsias era se a mulher de Oswald de Andrade Patrícia Galvão, a Pagu, tinha mesmo trazido a soja da China para o Brasil. Outro tema de debate acalorado versava sobre quem teria desvirginado Carmen Miranda, no qual intervinha o Rodrigo Miranda, tradutor da Embaixada americana, que se dizia sobrinho da cantora, mas não esclarecia nada. Magalhães apontava para o terreno vizinho e dizia que o dono dele foi quem deflorou a Pequena Notável, o Maciel Filho, a quem também era atribuída a redação da carta-testamento de Getúlio Vargas. Advogado matreiro, que também trabalhou para Assis Chateaubriand nos anos 1930, Maciel tinha erguido ali um bizarro castelinho, imenso apesar do diminutivo. Maciel morreu em 1975 e Adolpho comprou o terreno. Demolido o castelo, ali seria construído o segundo prédio, o Russell, 766. Uma extensão da fachada do 804, mas alguns metros mais longo do que ele. Quando o novo prédio ficou pronto, em 1980, não foi imediatamente ocupado, lembro que Adolpho costumava promover lá um chá das cinco, com uma meia dúzia de gatos pingados – eu, o Cony, o Geraldo Matheus.
A ocupação do 766 teve efeitos irreversíveis. Morreu o restaurante do terceiro andar ao ar livre, vicejou o chique restaurante com ar condicionado no décimo segundo andar do novo prédio; morreu também o décimo andar do 804 como sala de visitas, as recepções agora eram no décimo segundo do 766. Esta era a nova entrada no térreo para as redações, com vários Krajcbergs nas paredes, mas nenhum com a monumentalidade do 804, que tinha um pé direito altíssimo. A televisão foi ao ar em 1983, construiu-se um banheiro exclusivo para o PH, filho do Presidente FH, que tinha um emprego na TV, como muito antes o irmão do Collor, o Leopoldo, também ganhara uma sinecura na TV em São Paulo.
 |
O castelinho foi demolido para a construção do segundo prédio do conjunto
desenhado por Niemeyer para a Manchete. Um contínuo, o Sammy, convenceu a proprietária
a vender a casa vizinha ao castelo para Adolpho Bloch, onde foi erguido o terceiro prédio. A expansão parou aí. A terceira casa, obra do arquiteto italiano Antonio Virzi, com cúpulas, mastro e colunas retorcidas, ao lado do prédio de apartamentos, foi tombada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Foto Acervo RM |
A promiscuidade – ou vamos chamar de democracia – unia contínuos aos donos da empresa. O Sammy Davis Jr. prometeu ao Adolpho que ia conseguir para ele o terreno contíguo ao 766, cantando a senhorinha que era dona. Depois de anos, Adolpho comprou a casa e construiu ali, em 1986, a terceira fatia do bloco do Niemeyer. (Ignoro se o Sammy levou o dele.) Entre o primeiro e o segundo, havia um afastamento, uma fresta discreta. Já o terceiro era colado ao segundo e não tinha entrada autônoma. Foi ali que embarquei numa roubada: fazer para o programa da Anna Bentes, com a presença da própria, uma entrevista chapa branca com o grande especialista em fertilidade, Roger Abdelmassih, o médico paulista que foi condenado a trocentos anos de prisão por abusar das pacientes. E foi no topo dessa terceira fatia que vivi meu ano e pouco de Santa Genoveva (matéria recente no Panis). Enfim, a história é esta, confiram as fotos – a do castelinho do Maciel acho que é inédita.