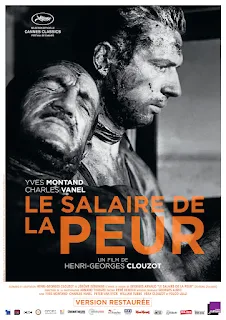|
ACONTECEU HÁ QUASE 60 ANOS - Uma das primeiras projeções da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio,
no Auditório Oscar Guanabarino, da ABI, em 13 de maio de 1958. O filme exibido foi O ferroviário, de Pietro Germi.
Na primeira fila, no centro (de óculos e bigode), Dejean Magno Pellegrin, um dos maiores incentivadores do cineclubismo no Brasil. Na extrema esquerda, Mary (futura Sra. Zuenir) Ventura. Na segunda fila, Leon Hirszman, futuro cineasta. Na terceira (ao centro, de óculos), Walter Lima Jr., idem. Ainda na terceira fila, Sarah de Castro Barbosa (futura Sra. Joaquim Pedro de Andrade). Na quarta fila, o jornalista Cláudio Mello e Souza, que dirigiu a Fatos & Fotos e foi apelidado de "O Remador do Ben-Hur" por Nelson Rodrigues. Também nessa fila, os futuros cineastas Carlos Diegues e David Neves. Na sexta fila, Tereza Aragão (futura Sra. Ferreira Gullar).
Foto de Robert Léon Chauvière * Arquivo Pessoal de Djean Magno Pellegrin |
Por Roberto Muggiati
Sou de uma geração perdida – não aquela do Hemingway – mas perdida de amor pelo cinema, uma geração com o coração de celuloide. Desde o primeiro filme, embaçado nas névoas da memória – O mágico de Oz, primeiro filme também de Salman Rushdie, que escreveu um livro a respeito – desde aquela primeira viagem fantástica com Judy Garland não me afastei mais do escurinho do cinema.
Ainda de calças curtas, escambava gibis na calçada do Cine Broadway, em Curitiba, antes de encarar a matinê de domingo, que começava às duas e ia até o fim da tarde, com direito a trailers, cinejornais, filme de abertura, filme principal e os seriados tipo Flash Gordon (“Continua na próxima semana...”)
 |
| Dejean Magno Pellegrin |
Como cinéfilo, ganhei um upgrade no meu ano e meio de Paris, de fins de 1960 a começo de 1962: via dois filmes por dia, um deles inevitavelmente na Cinémathèque. Foi também lá que conheci Dejean Magno Pellegrin, que se tornaria meu personal de cinema (na época não se usava essa expressão, nem guru). Um dia ainda vou fazer um perfil mais aprofundado com o título Dejean: Le Chevalier Galant du Septième Art.
Nos primeiros meses de Paris, morei na Cité Universitaire, na Maison du Brésil: uma máquina de morar tramada em 1957 por Lúcio Costa e Le Corbusier. Era acolhedora, cada quarto com calefação e seu chuveiro próprio – uma dádiva em Paris – mas a gente pagava um preço por aquele conforto. A Cidade Universitária ficava quase fora de Paris, confinava com o Boulevard Périphérique, isso diz tudo: pertencia à periferia. E a Casa do Brasil era um gueto tupiniquim, com feijoada e rodas de violão aos sábados.
Em fevereiro de 1961, com uma primavera precoce, temperatura de vinte graus e alguns afoitos nadando nas águas do Sena, eu já estava instalado num hotelzinho barato, mas admiravelmente bem situado, no coração de Paris, na Place Dauphine, vizinho do casal Yves Montand-Simone Signoret.
Conheci Dejean ainda na Cité Universitaire, num bistrô das redondezas frequentado por cineastas e cinéfilos brasileiros. Joaquim Pedro morava lá, estudava no IDHEC (Institut de Hautes Études Cinematographiques), ficamos amigos. No fim do ano foi um festival, vieram de Roma Paulo César Sarraceni e Gustavo Dahl, que estudavam cinema em Roma, tinham um colega italiano chamado Bernardo Bertolucci. Déjean morava perto, dividia um apartamento com o pianista Artur Moreira Lima em Montrouge.
 |
Le Champo ou Le Champollion, em Paris.
Hoje é o Espace Jacques Tati |
Minha mudança de endereço para a Place Dauphine, na Île de la Cité, não rompeu meu contato com Dejean. Bolsista do governo francês, eu só tinha aulas à noite, no Centre de Formation des Journalistes. Uma de nossas ocupações era caçar filmes de Ingmar Berman por toda a cidade. Dejean aparecia com a revistinha La Semaine de Paris debaixo do braço: “Está passando Törst num cinema de bairro perto da Mairie du 9ème, cara, vamos nessa.”
E lá íamos nós, fazendo três ou quatro “correspondances” (trocas de trem) no metrô de Paris. Törst, de 1949, era Sede em português, no Brasil se chamaria Sede de Paixões. Na França tinha o título poético de La Fontaine d’Arethuse, alusão a um recanto da Sicília mencionado no filme, que trata basicamente da DR de um casal numa viagem de trem da Itália à Suécia, atravessando a Alemanha devastada pela guerra. A evocação da ninfa Aretusa seria a metáfora da impossibilidade do amor.
O filme, embora um Bergman menor, me tocou fundo e levou a visitar a Fonte de Aretusa, em Siracusa, no meu Grand Tour daquele verão. E a revisitar Siracusa em 1999, 38 anos depois.
Havia muito Bergman a descobrir. Antes de Morangos silvestres, de 1957, ele tinha rodado dezessete longas. Fazíamos também concursos para ver quem lembrava mais títulos originais: Det regnar på vår kärle (Chove sobre nosso amor), Kvinnors väntan (Quando as mulheres esperam) En lektion i kärlek (Uma lição de amor) Sommarnattens leende (Sorrisos de uma noite de amor), o quebra-línguas Smultronstället (Morangos silvestres), Ansiktet (O rosto) e o belíssimo Gycklarnas afton (Noites de circo), que teve traduções inspiradas em francês (La Nuit des Forains/A noite dos circenses) e inglês (Sawdust and Tinsel/Serragem e purpurina). Eu levaria a mania pela vida afora: um dos títulos mais geniais para mim é o de Gritos e sussurros (1972): Viskningar och Rop. Claro, os franceses, inventores e cultores da sacrossanta Sétima Arte, projetavam estes filmes em v.o. – versão original – o áudio em sueco, com legendas. Assim, pela persistência das falas, sempre aprendíamos alguma coisa: Jag älskar dig (Eu te amo); ingen tingen (nada).


Outro cineasta que me arrebatou na época foi Michelangelo Antonioni, com L’Avventura, de 1960. Eu ignorava que ele tinha feito anteriormente dezessete filmes, começando em 1943. Dejean me apresentou a La Signora senza camelie/A dama sem camélias (1953), Le Amiche/As amigas (1955), baseado numa história de Cesare Pavese, e Il Grido/O grito (1957), já inserido no hábito italiano de usar atores americanos, nesse caso Steve Cochran (atuou em Copacabana com Groucho Marx e Carmen Miranda) e Betsy Blair (ex-Sra. Gene Kelly). Talvez eu tenha levado o título no meu inconsciente para o do meu livro Rock: o grito e o mito (1973).
Estranha coincidência naquela nossa escolha de colecionar Bergmans e Antonionis. Os dois diretores morreram com horas de diferença em 30 de julho de 2007: Bergman no começo da manhã, aos 89; Antonioni poucas horas depois, aos 95. Ambos com uma obra sólida: Antonioni com sua Trilogia da Incomunicabilidade (A aventura, A noite, O eclipse), de 1960-62; Bergman com sua Trilogia do Silêncio (Através de um espelho, Luz de inverno, O silêncio), de 1961-62. Escrevendo sobre as analogias na obra de ambos e a sincronicidade de sua morte, um crítico definiu sua obra como “um retrato da alienação do homem moderno num universo sem Deus.”
Em Paris, Dejean trabalhava na Radiodiffusion Télévision Française, fazendo programas em português para o Brasil. Amigo generoso, me encaminhou para uns frilas na RTF, mas não me dei bem na estreia e não me chamaram mais. Eu mal podia imaginar que no ano seguinte, 1962, seria contratado para trabalhar durante três anos no Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Uma experiência inesquecível: cheguei numa Inglaterra ainda vitoriana, saí de lá com a Swinging London a todo vapor. Pertencíamos ao que eu chamo de A Legião Estrangeira do Rádio. Tive colegas que trabalharam em The Voice of America em Washington e na BBC de Londres: o saudoso Telmo Martino e José Guilherme Correa.
Quando fui conhecer Estocolmo no verão, Dejean me encaminhou ao carioca Jack Soifer, que trabalhava na Rádio Suécia e foi para mim um cicerone generoso e hospitaleiro. Havia ainda a Rádio Canadá (nosso chefe de reportagem da
Manchete, João Resende, quase foi parar lá) e a Deutsche Welle, em Colônia, para os mais afoitos que conheciam o alemão, em geral descendentes. Mas Dejean parece que levou a coisa da Legião Estrangeira a sério, inspirado também naqueles filmes épicos da antiga como Beau Geste, Lanceiros da Índia e As quatro penas brancas. (Quando você é cinéfilo de verdade, a ficção das telas muitas vezes comanda suas escolhas no mundo real.) Ele foi trabalhar no Serviço Brasileiro da Rádio do Cairo, onde se tornaria parceiro de transmissão do gaúcho Francisco Bittencourt, crítico de arte que se tornaria meu amigo em 1970. Imaginem só o que é viver na cidade do Cairo no final dos anos 1960, na república presidida por Gamal Abdel Nasser, que destronou o Rei Faruk. (Bem humorado, Faruk comentou: “Em breve só haverá quatro reis: o Rei da Inglaterra e os quatro reis do baralho…”)
Um corte rápido, coisa de cinema. Em 1969, Dejean está morando em Moscou como oficial de chancelaria na Embaixada do Brasil. Na época, uma das grandes salas moscovitas exibia em noite de gala 2001: Uma odisseia no espaço, de Stanley Kubrick. Ao final da sessão, os russos na plateia vaiaram o filme, que acharam recheado de mensagens religiosas, principalmente no destaque dado ao misterioso monólito negro. Irritado, Dejean fez um tremendo discurso em inglês, arrasando com os comunistas: “Vocês são uns ignorantes, não entenderam porra nenhuma!”
Foi em Moscou que Dejean conheceu sua primeira e única mulher, Michèlle, uma francesa que trabalhava na Embaixada da França. Tiveram uma filha, cujo nome Dejean tirou – é claro – de um filme, On a Clear Day You Can See Forever/Num dia claro de verão (1970), de Vincente Minnelli: Melinda, a protagonista interpretada por Barbra Streisand. Belo nome. Woody Allen o escolheu para um filme genial de 2004, Melinda e Melinda. Pura coincidência.
Cassado pela ditadura militar, Dejean teria seus direitos parcialmente reintegrados em 1990, mas a família ainda hoje continua lutando por seus direitos. Demitido, Dejean seguiu com Michèlle para uma segunda temporada na Rádio do Cairo.
Humano, muito humano, Dejean era uma contradição ambulante. Esquerdista ferrenho, adorava o cinema americano acima de todas as coisas. E sua cultura era assombrosa. Há uns dez anos, propus a uma destas “casas do saber” cariocas um curso de quatro palestras sobre O filme noir e os Caminhos do cinema. Convidei Dejean para ser meu parceiro. Eu achava que sabia tudo de noir, mas ele me veio com uma peça rara: um filme de 1952, The Thief/O espião invisível, com Ray Milland, só de música e ruídos, sem nenhuma fala.
De volta ao Brasil, Dejean coordenou um festival de cinema que teve como convidada especial a musa da nouvelle vague Bernadette Lafont. Uma paixonite o levou a morar de novo em Paris, mas o timing conspirou contra ele: Bernadette na época ficou terrivelmente abalada com o desaparecimento da filha caçula, Pauline Lafont, 25 anos também atriz, que percorria sozinha trilhas do sul da França. Caiu de um penhasco e seu corpo só foi encontrado vinte dias depois. Dejean se deixou ficar por alguns tempos na Rue des Entrepreneurs, na Paris que tanto amávamos. Nos últimos anos nos víamos esporadicamente, seu endereço dificultava bastante os encontros:
Dejean morava num belo condomínio na Floresta da Tijuca, dez minutos de táxi além do Museu do Açude. Fui lá uma vez só, a vista era realmente magnífica, do alto das montanhas da Mata Atlântica num dia claro você podia ver o mar da Barra da Tijuca. As paredes do apartamento eram forradas pelos doze mil filmes de Dejean – e a coleção não parava de se avolumar, com as doações dos companheiros que já iam partindo. Antes, almoçamos no Bar da Pracinha, diante da entrada da Floresta da Tijuca, dividimos um belo filé à francesa (évidemment) com chope, discutindo apaixonadamente, como sempre, nosso assunto predileto.

A última vez que vi Dejean foi na ABI, no centro do Rio, em setembro de 2010, na cerimônia de descerramento da foto famosa que abre esta matéria, seguida da projeção do mesmo Il Ferroviere, de Pietro Germi, exibido na sessão histórica de 1958 – sutileza típica do Dejean. O amigo cinéfilo morreu do coração um ano e meio depois, aos 81, e sua cremação, no Cemitério do Caju, foi a única a que compareci até hoje.
No dia seguinte, um domingo, um incêndio destruíu totalmente o Cine Teatro Ouro Verde, um dos templos da minha adolescência cinéfila. Vi naquilo não uma mera coincidência, mas uma imolação do destino à altura do querido Dejean.